segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Giorgio Agamben: Política da profanação versus Religião do consumo
O capitalismo seria, em primeiro lugar, uma religião essencialmente cultual: o dinheiro, a riqueza, etc., representam as divindades às quais se deve impreterivelmente servir, sem vacilação. Segundo: o culto preconizado pela religião capitalista não possui um dia ou uma ocasião específica para sua realização: ele é, de fato, permanente. Afirma o filósofo: “Não há dia que não seja de festa, no terrível sentido da ostentação sagrada, da tensão extrema que reside no adorador.” O terceiro traço: o culto que esse sistema produz é culpabilizador, mas sem a possibilidade de expiação. Como consequência, as pessoas são tomadas de um desespero renitente e cruel, sem qualquer chance de redenção.
Mais tarde, em 1924, ao travar contato com a obra do húngaro György Lukács, o filósofo alemão acabou abandonando algumas dessas idéias. Aproximou-se do marxismo, deixou de condenar o capitalismo como religião e passou a criticar o culto fetichista da mercadoria, analisando as galerias parisienses como “templos do capital mercadológico”. Em nossos dias, coube ao italiano Giorgio Agamben retomar e desenvolver algumas das antigas reflexões benjaminianas sobre o capitalismo como religião, dando a elas uma fundamentação um pouco diferente.
É verdade, diz Agamben, que o capitalismo possui cultos, que esses cultos são permanentes e que a culpabilização gerada não oferece possibilidade de redenção. Mas o que é mais fundamental, e que justifica a comparação do capitalismo com uma religião, é o fato de essa forma de organização social estabelecer, em sua própria substância, uma cisão radical que cria a esfera do sagrado em contraposição ao mundo meramente humano, onde subsiste a maioria das pessoas.
Para fundamentar teoricamente sua reflexão, o filósofo serve-se dos escritos dos juristas romanos do passado, tema este em que é especialista. Na Roma antiga, afirma Agamben,“Sagradas ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam aos deuses. Como tais, elas eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens, não podiam ser vendidas nem dadas como fiança, nem cedidas ao usufruto ou gravadas de servidão. Sacrílégio era todo ato que violasse ou transgredisse esta sua especial indisponibilidade, que as reservava exclusivamente aos deuses celestes (nesse caso eram denominadas propriamente ‘sagradas’) ou infernais (nesse caso eram simplesmente chamadas ‘religiosas’).” (Agamben, 2007, p. 65)
Religião é, portanto, aquilo que retira coisas, lugares, animais ou pessoas do contato com o vulgo e as transfere para uma dimensão à parte da existência. Não há religião sem separação, e todo tipo de separação feita nesses moldes contém algo de religioso (o dispositivo que realiza a transposição de um determinado ente do mundo dos homens para as regiões divinais é o sacrifício).
Muitas pessoas acreditam, explica Agamben, que o termo religio deriva de religare (isto é, o que une o humano e o divino), mas essa relação não é verdadeira. Religio deriva, de fato, de relegere que significa precisamente “a atitude de escrúpulo e de atenção que deve caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação (o ‘reler’) perante as formas – e as fórmulas – que se devem observar a fim de respeitar a separação entre o sagrado e o profano” (ibid., 66). Religião, então, é exatamente aquilo que separa (e reforça a distinção) entre os mundos humano e divino.
Por outro lado, o que em verdade supera a cisão entre ambas as esferas não é a deferência em relação ao divino, e sim uma atitude de “negligência” para com as normas que a religião estabelece. É essa atividade que Agamben, na esteira dos juristas romanos, denomina de profanação: “Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular.” (ibid., 66)
Nesse sentido, explica o filósofo, uma das maneiras de se fazer esse “uso particular” do sagrado e burlar o conjunto de normas que realizam a separação entre humano e divino é a atividade lúdica, o jogo. Conforme suas palavras:“Brincar de roda era originalmente um rito matrimonial; jogar com bola reproduz a luta dos deuses pela posse do sol; os jogos de azar derivam de práticas oraculares; o pião e o jogo de xadrez eram instrumentos de adivinhação. Ao analisar a relação entre jogo e rito, Émile Benveniste mostrou que o jogo não só provém da esfera do sagrado, mas também, de algum modo, representa a sua inversão. A potência do ato sagrado – escreve ele – reside na conjunção do mito que narra a história com o rito que a reproduz e a põe em cena (grifo nosso). O jogo quebra essa unidade: como ludus, ou jogo de ação, faz desaparecer o mito e conserva o rito; como jocus, ou jogo de palavras, ele cancela o rito e deixa sobreviver o mito. (…) Isso significa que o jogo libera e desvia a humanidade da esfera do sagrado, mas sem a abolir simplesmente. O uso a que o sagrado é devolvido é um uso especial, que não coincide com o consumo utilitarista. Assim, a ‘profanação’ do jogo não tem a ver apenas com a esfera religiosa. As crianças, que brincam com qualquer bugiganga que lhes caia nas mãos, transformam em brinquedo o que pertence à esfera da economia, da guerra, do direito e das outras atividades que estamos acostumadas a considerar sérias. Um automóvel, uma arma de fogo, um contrato jurídico transformam-se improvisadamente em brinquedos.” (ibid., 66-7)
Note-se, então, que no jogo, que é uma das formas exemplares de profanação, as coisas são retiradas de suas relações costumeiras e inseridas em novas relações completamente distintas das primeiras. Um objeto com uma função específica, como por exemplo uma vassoura, pode virar, numa brincadeira, um cavalo. Uma estrutura que envolve determinadas práticas sociais e significados quebra-se para que outra venha à tona.
Contudo, diz Agamben, o “jogo como órgão da profanação está em decadência em todo lugar” (ibid., 67). Em nossos dias, de “religião capitalista”, os homens e mulheres já não tomam mais o jogo como meio de restituir o sagrado ao mundo humano. Não que não haja mais jogos – ou festas e danças, também concebidas originalmente como práticas anuladoras da separação – no contexto contemporâneo. Mas é que, naqueles que hoje existem – os “jogos televisivos de massa”, por exemplo – o objetivo realizado é apenas a instauração de uma nova liturgia, que seculariza por um breve momento o que nas situações diárias é considerado como objeto de culto e reverência. Mas secularização, adverte o filósofo, é diferente de profanação.“A secularização é uma forma de remoção que mantém intactas as forças, que se restringe a deslocar de um lugar a outro. Assim, a secularização política de conceitos teológicos (…) limita-se a transmutar a monarquia celeste em monarquia terrena, deixando intacto, porém, o seu poder. A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e separado perde a sua aura e acaba restituído ao uso.” (ibid., 68)
A secularização, portanto, muda de lugar um elemento no interior de um determinado sistema de relações que permanece, por sua vez, intacto. A profanação, ao contrário, desativa esse sistema. É por isso que é a profanação, e não a secularização, que deve ser perseguida por aqueles que não querem se deixar aprisionar pelo culto culpabilizador (e desesperador!) da religião capitalista.
O capitalismo, diz Agamben, generaliza e absolutiza o princípio definidor da religião. Em todos os âmbitos da atividade humana pode-se verificar o processo multiforme de separação que o sistema implementa. É interessante observar, nesse contexto, como o filósofo italiano aproxima tal fenômeno do fetichismo da mercadoria de que falava Marx. Conforme suas palavras:“Na sua forma extrema, a religião capitalista realiza a pura forma de separação, sem mais nada a separar. Uma profanação absoluta e sem resíduos coincide agora com uma consagração igualmente vazia e integral. E como, na mercadoria, a separação faz parte da própria forma do objeto, que se distingue em valor de uso e valor de troca e se transforma em fetiche inapreensível, assim agora tudo o que é feito, produzido e vivido – também o corpo humano, também a sexualidade, também a linguagem – acaba sendo dividido por si mesmo e deslocado para uma esfera separada que já não define nenhuma divisão substancial e na qual todo uso [no sentido de profanação] se torna duravelmente impossível. Esta esfera é o consumo.” (ibid., 71. Grifos nossos)
Portanto, tudo que é feito, produzido e vivido torna-se mercadoria – tudo é interiormente cindido. A existência social como um todo divide-se e o consumo passa a ser a esfera onde a consagração das coisas é consumada. As coisas tornam-se reverenciáveis por si mesmas, sagradas, veneráveis e acima do universo do humano.
Qual a alternativa? Fazer outro uso das coisas, diz o filósofo: estabelecer uma forma de relacionamento social que elimine a separação instaurada pelo capitalismo e que restitua ao domínio humano o que o sistema aliena para o plano do sagrado. Numa palavra, é preciso profanar.
“A profanação do Improfanável é a tarefa política da geração que vem”, assevera Agamben, sem hesitação. Se estiver certo, as revoluções do século XXI deverão ter um caráter profundamente lúdico e profanatório.
Referências: Agamben, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007.
Sonhar, realizar o sonho, sonhar mais alto: Dialética e revolução em Slavoj Zizek
I
Uma transformação social de grande envergadura pode ser considerada pejorativamente, por muitos, um sonho. Pode ser sonho ingênuo, do ponto de vista dos senhores da ordem, uma condição em que superamos um modo de vida no qual existimos como meros meios para fins que nos são alheios. No entanto, há que se levar em conta, são sonhos que não emergem isoladamente nem são eventos acidentais no fluxo constante que é a história.
O que é, pois, sonhar? O que é que são os sonhos (diurnos ou noturnos)? Por que, afinal, sonhamos e desejamos tão ansiosamente, tão entranhadamente a emancipação que nos escapa? O que sabemos, de fato, pela simples constatação empírica diária, é que esse fenômeno existe, é que sonhamos e frequentemente sonhamos acordados (devaneamos). Em algumas situações, na realidade, chegamos a estar face-a-face com o objeto dos nossos sonhos. No entanto, raras são as vezes em que os tocamos. E mais raras ainda são as vezes em que com eles conseguimos permanecer. Por que isso acontece?
Slavoj Zizek arrisca uma resposta em seu brilhante ensaio Mao Tsé-Tung, “Senhor do Desgoverno” marxista, em que apresenta elementos-chave de suas concepções sobre cultura e revolução. Esse escrito foi concebido para servir de apresentação a uma edição de Sobre a prática e a contradição, possivelmente a obra mais célebre do velho líder chinês. Trata-se de um balanço crítico das razões teóricas do fracasso da revolução chinesa em conseguir realizar a “livre associação dos produtores”, a comunidade humana emancipada de que falavam Marx e Engels.
Quais as limitações do pensamento e da práxis política de Mao? Segundo Zizek, o grande problema de seu projeto revolucionário estaria na recusa da ideia hegeliana de síntese enquanto unidade superior entre os contrários. Mao teria razão, explica o filósofo esloveno, em romper com as noções padronizadas de síntese enquanto mero equilíbrio e conciliação entre os opostos, pois, de fato, o conceito de Aufhebung (isto é, de síntese dialética), desenvolvido por Hegel, é muito mais complexo que isso. No entanto, ele insiste unilateralmente em priorizar a luta dos opostos e rejeitar qualquer tipo de síntese (ou de unidade) entre esses pólos.
Ou seja, Mao rejeita a noção vulgar de síntese, mas recusa também, de antemão, que exista qualquer forma possível de superação dialética. A processualidade do real se daria, assim, meramente, por meio do confronto entre tese e antítese e nunca se verificaria o momento da negação da negação. Como explica Zizek:
“Mao rejeita de forma cáustica a categoria da ‘síntese dialética’ dos contrários, promovendo sua própria versão da ‘dialética negativa’ – toda síntese é, para ele, em última instância, o que Adorno em sua crítica a Lukács chamou de erpresste Versöhung (reconciliação forçada), na melhor das circunstâncias momentânea pausa na luta verdadeiramente em processo, que ocorre não quando os contrários estão unidos, mas quando um lado simplesmente vence o outro.” (Zizek, 2008, 19)
Para Mao, em sua “ontologia”, tudo está condenado a se dividir, e nada realmente se sintetiza. Quais são as consequências políticas desse tipo de orientação teórica?
A grosso modo, para a filosofia hegeliana, o real é composto de uma unidade de contrários em permanente luta. Há, para cada afirmação, uma correspondente negação. Desse processo, emerge uma terceira coisa, que é produto da negação da negação. Dito de outro modo: existe, num primeiro “momento”, a tese, que, em seguida, é negada pelo seu contrário; a sua antítese e, desse conflito, surge a síntese, o “terceiro elemento”, um ente que nega a negação realizada pela antítese sobre a síntese.
A síntese é o ápice do processo em que os contrários lutam entre si e o ser emerge numa terceira configuração, “qualitativamente diferente” das duas primeiras. Há, dessa maneira, dois momentos na transformação do ser: o primeiro é a negação; o segundo, o decisivo, corresponde à negação da negação, à síntese hegeliana. Para designar a síntese, Hegel utiliza a palavra alemã Aufhebung, que significa, simultaneamente, negação, conservação e superação. É esse tipo de raciocínio que Mao rejeita por completo. Para ele, explica Zizek, só tese e antítese se sucedem, nada de fato se sintetiza e tudo permanece sempre dividido.
Se não há a síntese, pensa Mao, o próprio comunismo deve se constituir em uma realidade inerentemente cindida, produzindo antagonismos fundamentais, teses e antíteses, sem a possibilidade de alguma Aufhebung. Por recusar a noção de síntese dialética e assumir apenas a realidade do conflito que se desenvolve em interminável sucessão de teses e antíteses, Mao acabou abrindo a possibilidade prática para a reafirmação do conflito entre as classes, o que, por sua vez, eliminou, segundo Zizek, a viabilidade da realização do comunismo na China.
A Revolução Chinesa conseguiu, então, negar a tese original – a ordem social anterior -, mas não pôde ir além disso, não realizou a negação da negação. Verificou-se uma mudança na ordem, mas não da própria ordem, como necessariamente deve haver se se pretende levar a efeito um processo genuinamente transformador. Nas palavras do filósofo esloveno,
“O problema de Mao foi justamente a falta de ‘negação da negação’, o fracasso das tentativas de transpor a negatividade revolucionária em nova ordem verdadeiramente positiva. Todas as estabilizações temporárias da revolução equivaliam a outras tantas restaurações da velha ordem, de tal modo que a única forma de manter a revolução viva era a ‘infinidade espúria’ da negação repetida interminavelmente, que atingiu seu ápice na Grande Revolução Cultural.” (ibid, 30)
É nesse preciso sentido que, segundo Zizek, Mao foi o “Senhor do Desgoverno” marxista. O que significa isso?
Na Europa da Idade Média, um dos costumes das casas feudais era escolher um “senhor do desgoverno”, um sujeito que, num dia qualquer de festividade, seria considerado o mentor das atividades gerais. Durante esse dia, a ordem e a hierarquia usuais estariam abolidas. Os papéis de gênero eram revertidos, os aprendizes tomavam o lugar dos mestres etc. Mas, quando esse momento de exceção acabava, os “senhores do desgoverno” e os antigos amos voltavam às suas ocupações habituais.
O fracasso de Mao, pois, tem a ver com essa incapacidade de, uma vez instaurado o “desgoverno” – a reversão da ordem tradicional -, não ter conseguido “negar a negação”, isto é, transcender completa e radicalmente a própria ordem que foi brevemente negada. Houve, portanto, uma negação dentro da ordem (isto é, no interior da ordem mesma), mas não da própria ordem.
Dito de outro modo: por um curto período de tempo, no âmago de uma determinada estrutura de relações sociais, alguns elementos trocaram de posição. Mas o processo decisivo, de alterar o sistema que exigia a presença de hierarquia e antagonismo, em direção a outro, qualitativamente diferente, organizado de forma horizontal, não se logrou alcançar.
Por isso Zizek afirma que a revolução levada a cabo pelo líder chinês foi certamente negativa, mas de forma alguma foi sintética, ou “superadora”, isto é, não estabeleceu na prática a “negação da negação”. Tal foi a fraqueza central do pensamento e da política de Mao. Faltou-lhe a radicalidade para, uma vez transformada a ordem dentro de certos pressupostos, modificar, em seguida, os próprios pressupostos em que a ordem se assentava. Como explica o filósofo esloveno,
“A verdadeira revolução é a ‘revolução com revolução’, uma revolução que, em seu transcurso, revoluciona seus próprios pressupostos iniciais. Hegel pressentiu essa necessidade quando escreveu: ‘É uma loucura moderna alterar um sistema ético corrupto, sua constituição e legislação, sem mudar a religião, ter uma revolução sem reforma.’ Hegel anunciava, assim, a necessidade de uma Revolução Cultural como condição para o sucesso da revolução social. Isso significa que o problema com as tentativas revolucionárias até agora não é que elas tenham sido ‘demasiado extremadas’, mas que não foram suficientemente radicais, que não questionaram seus próprios pressupostos.” (ibid, 33).
Aqui começamos a chegar ao ponto talvez mais interessante da reflexão do filósofo esloveno. Para ele, como dissemos, há dois momentos no processo revolucionário: o primeiro é o que se dá dentro da ordem; o segundo diz respeito à transformação da ordem mesma. A primeira atitude é a da negação; a segunda é a da negação da negação. A Revolução Chinesa, com todas as transformações sociais, econômicas, culturais e políticas que promoveu, conseguiu varrer com violência um velho mundo que, até então, afirmava-se oprimindo a grande nação oriental. Um ato desse tipo é, sem dúvida, segundo Zizek, a precondição para que outra formação social nova possa nascer. Mas uma segunda etapa, a da “invenção da nova vida”, deve acontecer na sequência. Uma situação em que ocorra “não apenas a construção da nova realidade social na qual nossos sonhos utópicos serão realizados, mas a (re)construção desses próprios sonhos” (ibid, 34.) [grifos nossos].
Entra agora em cena o referencial psicanalítico com o qual Zizek analisa a sociedade e a cultura no contexto do capitalismo. Seguindo uma linha interpretativa desenvolvida anteriormente por intelectuais ligados à chamada Escola de Frankfurt, o filósofo esloveno toma a cultura como uma objetivação que, no âmbito da sociedade, corresponde àquilo que o sonho é no plano da existência psíquica individual: a realização de desejos originados por conflitos desencadeados no pretérito e que continuam a existir, numa instância “inconsciente”, no presente.
II
A cultura seria uma espécie de “sonho coletivo”, no qual se verificam alguns fragmentos de consciência envoltos num grande oceano de inconsciência. Nas sociedades divididas em classes, observamos esse conflito fundamental se expressar, de várias formas, nas obras de arte, na disposição da cidade, na arquitetura, na moda, nos interiores etc. – e certamente nos ideais políticos, que são, algumas vezes, o produto mais ou menos acabado da interpretação dos sonhos coletivos produzidos em sociedade.
Na sociedade de classe vigente, o sonho que muitas vezes a população de oprimidos e infelizes alimenta, ora velada, ora abertamente – e que as teorias políticas tentam dar conta de interpretar, de modo a proporcionar que, uma vez que os sujeitos coletivos estejam conscientes dos seus conflitos, possam vir a superá-los -, é o sonho, justamente, da emancipação do profundamente arraigado conflito de classes vigente. Nesse contexto, a revolução comunista é como se fosse, literalmente falando, a realização de um sonho cultivado coletivamente.
Ora, no século XX assistimos a várias revoluções desse tipo, ainda que cada uma delas tenha tido a sua configuração e o seu desfecho específicos. No caso particular da Revolução Chinesa, o que é que de fato ocorreu para que esse sonho, momentaneamente tangido, se esvaecesse no ar de forma a produzir o retorno do capitalismo, mas, dessa vez, numa configuração muito mais brutal, chegando ao ponto de, conforme Zizek, constituir-se na China um “Estado capitalista ideal”, onde o capital explora o trabalho a seu bel-prazer e o Estado faz o “trabalho sujo” de manter o rígido controle sobre as classes proletárias?
Sigamos o raciocínio do filósofo esloveno. Conforme explicamos acima, em condições de grande opressão, os seres humanos tendem espontaneamente a fantasiar, idealizar, devanear, ansiar por uma realidade diferente, um mundo de redenção, utopia, emancipação, onde as condições do sofrimento vigente estejam definitivamente abolidas. Se isso, quiçá, vier a nos acometer de novo um dia no século XXI – e isso pode estar acontecendo neste exato momento -, talvez uma vez mais venhamos a nos organizar, lutar, reivindicar, aprender, analisar, teorizar, compreender os nossos sonhos mais íntimos de outrora, agir, refazer estratégias, reinvestir contra a ordem opressora até que uma conjuntura surja na qual esta ordem atual comece a ser negada por completo.
Aparecerá então uma situação nova em que poderemos assumir a condição de sujeitos de nossas próprias vidas e passaremos a dispor de meios para a reinvenção de nossa forma de existência coletiva. Com os motivos da opressão assim derrotados, será como se estivéssemos “realizado o sonho” historicamente cultivado de emancipação. Mas quando isso acontecer, recomenda-nos Zizek, devemos ter a mais cuidadosa e refinada atenção. Uma vez “realizado o sonho”, é preciso “encontrar um caminho para começar a imaginar a Utopia que se vai iniciar”.
O filósofo esloveno se serve aqui das palavras de Fredric Jameson para explicar que, assim que dermos o primeiro passo para a construção da Utopia, devemos
“pensar o novo começo do processo utópico como uma espécie de desejar o desejo, aprender a desejar – a invenção do desejo chamado Utopia em primeiro lugar, juntamente com novas regras para fantasiar ou sonhar acordado sobre tal coisa – um conjunto de protocolos narrativos sem precedente em nossas instituições literárias prévias.” (Jameson, apud Zizek, idem, 34) [grifos nossos]
O grande perigo que nos acomete então no momento em que “realizamos o sonho” é não podermos transcendê-lo, isto é, não conseguirmos criar outro novo desejo e outro novo sonho que nos estimule a seguir adiante. Por quê? Porque os desejos e sonhos que criamos em determinadas circunstâncias são a expressão de um conflito estabelecido a partir de certas situações concretas. Esses conflitos são os pressupostos dos quais os sonhos e desejos de emancipação são a expressão. Se nós realizamos o sonho, mas não transformamos radicalmente o conflito primevo – o pressuposto do qual emergiu o sonho -, e que agora se estancou momentaneamente, esse conflito tende a se afirmar de novo.
Por isso, uma vez realizado o sonho, isto é, uma vez suspensa a condição conflitiva que se constituía em pressuposto fundamental do próprio sonho, é preciso negar o próprio pressuposto, o que por sua vez nos dará a possibilidade de elaborar novos tipos de sonhos, de dar à luz novos desejos que nos permitirão, finalmente, deixar o passado para trás. Como explica Zizek:
“A referência à psicanálise aqui é crucial e muito precisa: numa revolução radical, as pessoas não só ‘realizam seus velhos sonhos’ (de emancipação etc.); mais propriamente, elas têm de reinventar seus próprios modos de sonhar. (…) Aí reside a necessidade da Revolução Cultural, muito bem entendida por Mao: como Herbert Marcuse disse em outra maravilhosa fórmula circular da mesma época, a liberdade (das limitações ideológicas, do modo predominante de sonhar) é a condição da libertação, isto é, se apenas mudamos a realidade para realizar nossos sonhos e não mudamos esses próprios sonhos, cedo ou tarde regressamos à velha realidade. Existe uma ‘posição de pressupostos’ hegeliana funcionando aqui: o pesado trabalho de libertação forma retroativamente seu próprio pressuposto.” (ibid, 34)
Portanto, somente modificando os sonhos, os pressupostos dos sonhos e a própria forma de sonhar – no sentido de sonhar “mais alto”, de dar à luz um novo sonho superior -, conseguiremos suplantar a origem dos males que nos afligem. Mao Tśe-Tung compreendeu isso, fato que atesta a sua percepção para a importância de uma revolução cultural em concomitância com a revolução social. Mas não logrou atingir o objetivo de revolucionar os pressupostos que estavam na base da sua ação revolucionária. Transformou uma determinada ordem, mas não a modificou em suas raízes. Ao resultado de todo esse fracasso – a “justiça poética da história”, como diz Zizek – assistimos hoje com o violento e brutal retorno do capitalismo à China.
A contradição de Mao, finalmente, foi a de ter querido “revolucionar” o sistema baseado num conjunto de práticas estruturadas de forma homóloga às do capital. O resultado da não-concretização do evento revolucionário desejado é o retorno do próprio sistema, mas agora não mais como senhor da ordem, da norma e da normalidade e, sim, como “o verdadeiro senhor do desgoverno”, que rompe com todos os padrões, que varia e modifica tudo permanentemente a fim de continuar reproduzindo-se a si mesmo…
Zizek se pergunta, então, sobre o que é que podemos ainda tomar como lição do velho Mao a fim de orientarmos nossas ações políticas atuais, mas desta vez sem cairmos nos equívocos cometidos pelo velho líder chinês:
“Como, então, poderemos revolucionar uma ordem cujo mais genuíno princípio é o constante auto-revolucionamento? Essa, talvez, seja a questão de hoje e esse é o modo segundo o qual deveríamos repetir Mao, reinventando sua mensagem às centenas de milhões de pessoas que sofrem a opressão, uma simples e tocante mensagem de coragem: ‘Não é para temer o que é grande. O grande será derrubado pelo pequeno. O pequeno se tornará grande.’ (…)
‘Não devemos ter medo.’ Não será essa a única atitude correta diante da guerra? ‘Primeiro, somos contra ela; segundo, não a tememos.’ Há definitivamente algo de aterrador nessa posição – no entanto, esse terror nada mais é senão a condição da liberdade.” (ibid, 38) [grifo nosso]
Tais são as lições que Slavoj Zizek tira de Mao e recomenda aos revolucionários do presente.
Referência: ZIZEK, Slavoj. Mao Tsé-Tung, “Senhor do Desgoverno” marxista. in TSÉ-TUNG, Mao. Sobre a prática e a contradição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
sábado, 18 de junho de 2011
Meditação sobre o amor nº 2
O amor, quando se perde, gera uma tristeza infinita. Por que? Porque o amor alimenta a alma, a vida, a carne, o ser como um todo, as aspirações mais profundas e as delícias do existir. E se falta o amor, falta tudo, falta o equilíbrio para a marcha, falta o músculo que nos permite levantar da cama nas manhãs de chuva ou de sol, falta a torrente de ímpeto que possibilita que caminhemos, decididos, em direção ao nosso alvo, ao nosso objetivo precípuo, a nossa realização tão sonhada.
E pensar que nesta sociedade capitalista é tão raro encontrarmos um amor que fecunda e faz crescer, tão raro como ganhar na loteria, tão raro como acertar a lua.
Com certeza, o amor dos pais pelos filhos, dos camaradas na luta, dos amigos em sua amizade plena, o amor dos amantes, são formas existentes, válidas, exemplares do que se pode ter em se tratando desse assunto, mas essas coisas são ilhas neste mundo e não passam, infelizmente, disso. Há um oceano de conflito, de desprezo, de antagonismo, que, com suas marés moribundas e nefastas, atinge todos os dias as praias do nosso vigor, a enseada do nosso viver e a baía da nossa realização enquanto criaturas completas e aspirantes da bem-aventurança.
O amor, construção humana das mais preciosas, âmbar para a virtude, essência de sândalo para o desânimo, textura de pétala de flor a nos acariciar e acalmar a pele. O amor, fonte cristalina para o revigorar do corpo, saciedade para a sede no deserto, brisa fresca a nos fazer sentir como que nas proximidades de uma cordilheira. Êxtase de cume de montanha ao olhar os despenhadeiros ao redor, cheiro verde da grama que nos abraça alegre ao nos rolarmos nela, força gravitacional que nos impele não para baixo, mas para o desabrochar do mais essencial em nós, a multiplicidade de dons, de sons, de imagens, de canções, de poderes inusitados e insuspeitos que jazem adormecidos na imensidão obscura do nosso espírito.
Que ninguém pense que isso seja como a calmaria de um porto seguro, que se atinge após uma longa aventura pelos quadrantes perdidos e esquecidos dos sete mares à disposição. Antes, o amor é o próprio desejo de seguir viagem, a coragem de enfrentar abismos, tormentas, ciclones, furacões, dragões e monstros marinhos, a fé na possibilidade da emancipação e a convicção de que ninguém está circunscrito à tristeza da condenação de uma vida eterna na condição de menos que ser, de menos que humano.
Estou compreendendo que a falta do amor presente me causa uma comoção tremenda, uma angústia, uma melancolia interminável que me é difícil digerir e que me faz ter um pensamento renitente, um anseio, uma necessidade permanente e indestrutível, que me arrebata e me prende a uma conjunção de gestos cujo sentido é dado pela mais genuína vontade de corporificar de novo o amor em minha frente, custe o que custar e doa a quem doer.
Que todos possam aprender, hoje, sempre, nas situações corriqueiras de aparente tédio ou nas conjunturas em que tudo parecer estar perdido, que todos possam aprender a cultivar o seu amor.
sexta-feira, 17 de junho de 2011
Para além do capital, de István Mészáros: a crítica de todas as formas de conciliação entre classes
...dar coragem aos escravos e horrorizar os déspotas. Walt Whitman
Uma grande e terrível mistificação se generaliza tomando conta da esquerda brasileira contemporânea. Ela promove a crença de que o Estado é uma realidade à parte em relação ao capital, que pode, com seus "super poderes", controlar e subjugar esse sistema, e que deve, por tais motivos, ser considerado o instrumento fundamental das classes exploradas para a realização da sua efetiva emancipação. A conclusão prática que os ideólogos, desgraçadamente, extraem desse capcioso raciocínio é a de que a tarefa precípua dos trabalhadores consiste em usar as vias disponíveis – os processos eleitorais situados nos marcos da famigerada democracia burguesa - para ocupar as posições importantes do Estado e usá-las, em seguida, para "enquadrar", em benefício próprio, o seu inimigo comum.
Os resultados da práxis política amparada por tal concepção são perturbadores: desprezo pela necessidade de organização e de conscientização das classes trabalhadoras sobre as contradições que lhe compõem o ser; respeito absoluto ao imperativo de manter em "paz" a antagônica estrutura de relacionamento social vigente; descarte da idéia de revolução social em favor de alianças partidárias espúrias e reformas políticas que apenas aliviam os conflitos e acomodam entre si as classes do atual sistema; aviltamento do projeto histórico de concretização de uma comunidade humana emancipada, sob a responsabilidade auto-gestora dos "produtores livremente associados", em função do objetivo de fomentar, entre os trabalhadores, a mera posse de mercadorias e o seu consumo exacerbado.
István Mészáros, em Para além do capital: rumo a uma teoria da transição (São Paulo: Boitempo, 2002), nos convida a buscar uma alternativa radical e viável em relação a esse perigoso caminho. Baseando-se em profunda análise da crise estrutural do capital, o filósofo desenvolve uma crítica sem concessões dos múltiplos fetiches inerentes a esse sistema - incluindo-se aí o Estado e a produção e o consumo de mercadorias -, acompanhada de uma estratégia política coerente com vistas a auxiliar os trabalhadores do mundo em suas lutas por emancipação.
São inúmeras as contribuições presentes na obra. A que talvez se possa destacar em primeiro lugar é a conceituação do capital como um complexo de mediações de segunda ordem – a saber: os meios alienados e os objetivos fetichistas de produção, o trabalho "estruturalmente separado da possibilidade de controle", o dinheiro, a família nuclear, o mercado mundial e as várias formas de Estado do capital – que se afirma sobre as mediações de primeira ordem da atividade produtiva, subordinando-as hierarquicamente e compondo com elas uma dinâmica orientada pelo imperativo da "mais elevada extração praticável do trabalho excedente", num movimento sempre acumulativo, expansivo, "automático" - no sentido de que esse processo se desenvolve sem que a coletividade humana consiga controlá-lo conscientemente – e, hoje mais do que nunca, perdulário e destrutivo.capital passou, primeiramente, por um longo período histórico de ascendência que culminou na dominação, por parte desse brutal sistema de exploração de trabalho excedente, de toda a superfície do globo terrestre. Enquanto essa fase ascendente perdurou, o capital conseguiu lidar com as suas crises inevitáveis por meio de rearranjos internos de suas mediações constituintes, de ações "harmonizadoras" do Estado, de deslocamentos de contradições e da imposição de suas formas de sociabilidade a outros povos e nações.
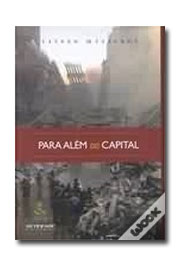
Nesse contexto, diz Mészáros, o Estado não é nada mais do que o elemento cuja especificidade consiste em promover a retificação - isto é, a "harmonização" momentânea - dos "microcosmos antagonicamente estruturados" que configuram o capital. Ele se situa no interior do complexo em questão, participando ativamente do deslocamento das contradições - alguns dos "limites relativos" - inerentes a tal sistema. Por esse motivo, afirma o filósofo, é equivocado tomar o Estado como uma entidade apartada do capital, capaz de impor-lhe rédeas e de frear o seu ímpeto fetichista. O Estado contemporâneo não está além do capital; ele não passa, em realidade, de um dos componentes principais de sua base material: esta é a primeira lição importante que o grande livro de Mészáros nos traz.
O filósofo húngaro elabora suas categorias a partir de um diálogo crítico com autores de ampla envergadura teórica, tais como Hegel, Marx, Lukács, Adam Smith, Schumpeter, Hayek, Paul Baran e Paul Sweezy, entre outros, e avança no sentido de realizar uma "análise concreta da conjuntura concreta" da formação social vigente em nossos dias. Nesse trajeto, esmiuça e desvenda as determinações fundamentais da crise estrutural do capital, uma nova situação histórica que, na sua visão, abre a possibilidade objetiva para a superação do atual "sistema de controle sócio-metabólico" em direção a um modo qualitativamente diferente de organização comunitária, na qual os "produtores livremente associados" se tornam os responsáveis conscientes pela regulação sustentável do metabolismo social. O que vem a ser, pois, essa crise estrutural?
Mészáros explica que a formação do capital passou, primeiramente, por um longo período histórico de ascendência que culminou na dominação, por parte desse brutal sistema de exploração de trabalho excedente, de toda a superfície do globo terrestre. Enquanto essa fase ascendente perdurou, o capital conseguiu lidar com as suas crises inevitáveis por meio de rearranjos internos de suas mediações constituintes, de ações "harmonizadoras" do Estado, de deslocamentos de contradições e da imposição de suas formas de sociabilidade a outros povos e nações.
Com o planeta inteiro assim conquistado, uma nova etapa histórica teve início, na qual já não é mais possível ao sistema exportar os seus antagonismos da maneira como antes fazia. Como conseqüência, alguns dos elementos contraditórios, que outrora alimentavam o movimento ascendente do capital, tornam-se "disfuncionais" em relação a essa macro-estrutura e passam a ameaçar a sua viabilidade enquanto modo de controle dominante sobre a atividade produtiva.
É então que o capital vê ativados os seus "limites absolutos", isto é, os limites que não podem ser transcendidos se não se altera por completo o próprio "macrocosmo" de relacionamento social que lhe serve de fundamento. A crise estrutural de que Mészáros fala é justamente essa nova modalidade histórica de crise – diferente das anteriores, ocorridas na fase de ascendência do capital -, onde o sistema já não dispõe da possibilidade de expulsar para longe os seus "limites relativos" e onde alguns dos antagonismos que no passado concorreram para a sua reprodução no tempo e no espaço começam a obstaculizar sua dinâmica acumulativa e expansiva.
Isso tudo, continua o filósofo, acaba por engendrar enorme variedade de percalços, desde complicações no processo de "valorização do valor" (e a conseqüente emergência do antivalor) até a alteração, num sentido decrescente, da taxa de utilização das mercadorias. Para tentar lidar com os efeitos desses problemas, o sistema é forçado a efetivar uma forma de produção essencialmente destrutiva, isto é, que atribui à destrutividade – elemento intrínseco ao capital desde os seus primórdios, mas que, até então, não era dominante – o papel de "princípio orientador" do trabalho.
A produção destrutiva, de que fala Mészáros – ao contrário da destruição produtiva, vigente no passado e teorizada por Schumpeter -, se expressa de muitas maneiras: na precarização do trabalho (camuflada, muitas vezes, ideologicamente, sob o rótulo enganador de flexibilização), na degradação ambiental, na obsolescência planejada – mercadorias produzidas para, num curtíssimo espaço de tempo, se tornarem obsoletas, a fim de serem substituídas por novas mercadorias – e no "complexo militar-industrial", setor chave da economia mundial, onde as mercadorias – artefatos bélicos etc. – se destroem no ato imediato do seu consumo.
O filósofo ressalta que o surgimento da crise estrutural não quer dizer que o sistema esteja em vias de desaparecimento, ou que vá implodir, em breve, por conta própria. O que em verdade ocorre, diz Mészáros, é que o capital continua vivo, mas vivo à semelhança de um câncer. Portanto, com uma dinâmica metabólica altamente degradante e mortífera, o que torna a situação da humanidade particularmente grave na atualidade. Mas, por mais paradoxal que isso possa parecer, é essa a condição que de fato abre a possibilidade objetiva para a superação do complexo social alienante em que nos inserimos.
O autor de Para além do capital se baseia aqui em Marx, para quem "nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela contém" (apud Mészáros, 2002, 467). Para o filósofo húngaro, a presente crise estrutural é a confirmação desse pleno desenvolvimento das forças produtivas do capital, que, por haverem se transformado em forças eminentemente destrutivas, colocam em risco a viabilidade do sistema, ao mesmo tempo em que impõem para a humanidade um desafio que ela já não pode contornar: a elaboração de uma alternativa radical em relação ao atual estado de coisas ou a deterioração progressiva de sua substância enquanto seres autoconscientes e capazes de desenvolver positivamente suas vastas potencialidades. Numa palavra: socialismo ou barbárie - eis a fórmula que melhor resume o dilema.
É aqui que entra em cena o tema da ofensiva socialista, a estratégia revolucionária capaz de nos levar para além do capital enquanto modo de controle sócio-metabólico fetichista, alienante, perdulário e destrutivo, e não somente do capitalismo e seus respectivos instrumentos de garantia e segurança da propriedade privada.
A ofensiva socialista que Mészáros defende não dispensa as lutas que ocorrem no interior do parlamento e do Estado burgueses, mas as transcende ao centrar seus esforços na formação de novas mediações extra-parlamentares, não antagônicas e sustentáveis, de regulação da atividade produtiva. Ora, argumenta o filósofo, sendo o capital um sistema específico de mediações de segunda ordem, que, além de determinar as ações do Estado, age fundamentalmente fora dele – o capital é uma "força extra-parlamentar par excellence", diz Mészáros -, o que é necessário, justamente, é negar essa estrutura ali mesmo onde ela se enraiza, bem como afirmar um novo conjunto de mediações, organizadas de maneira horizontal e pluralista e controladas de forma consciente pelos produtores livres e associados.
Isso está de acordo com o ideal de crítica que o filósofo húngaro resgata de Marx, a saber: a articulação teórica e prática de negação e afirmação no sentido da construção da emancipação humana. Em termos político-institucionais, a negação consiste na atuação que acontece ainda no âmbito do Estado. Ela é, aí, pois, sinônimo de defensiva – por exemplo, lutar no interior do parlamento pela manutenção de direitos conquistados historicamente. A postura defensiva, diz Mészáros, é importante e não deve ser desprezada. Mas ela precisa ser complementada pela ação afirmativa, isto é, pela criação de mediações de regulação sócio-metabólica que estejam além do Estado.
A ofensiva socialista é, portanto, essa conjugação de atividade negativa e afirmativa, de práxis que se dá, também, no plano do Estado, mas que ocorre substancialmente fora dele, a fim de se transcender a divisão hierárquica do trabalho e a separação entre os trabalhadores e os meios de produção. Em ambas as frentes de batalha – intra e extra-parlamentar -, as ações necessitam se orientar pelo objetivo de distribuir o poder de decisão, sobre todos os âmbitos da atividade produtiva, aos "produtores livremente associados".
Fica claro, então, que, de acordo com Mészáros, o problema a ser atacado é o da separação entre política – a decisão consciente dos indivíduos sociais – e a esfera reprodutiva material da sociedade. E isso só pode ser feito se se supera a "política tradicional", visto que o que está em jogo é não apenas a mera ocupação do Estado – que não pode, por definição, se tornar instrumento de controle do capital -, mas a regulação da produção por parte dos sujeitos que a realizam. Fundir o processo de legislar – decidir, estabelecer conscientemente as regras, os processos, os meios etc. - ao de produzir – fazer, executar, realizar –, de uma maneira em que os próprios produtores se auto-determinem, tal deve ser o objetivo precípuo dos socialistas.
É por essa razão que a nossa práxis não pode se limitar ao campo do parlamento. Para que consigamos confrontar a ação extra-parlamentar do capital – aquela que, bem entendido, controla o metabolismo social humano e utiliza, para esse fim, o Estado –, é preciso que nos constituamos, também, como força extra-parlamentar. Percebe-se, assim, que o movimento de transformação revolucionária, que deve abarcar todos os aspectos constitutivos da inter-relação entre capital, trabalho e Estado consiste numa reestruturação completa e radical das mediações materiais herdadas.
Ora, é exatamente essa orientação ofensiva que falta aos partidos brasileiros de esquerda hoje ocupantes das altas posições do Estado. Aliás, será que podemos, ainda, denominá-los de esquerda? Como afirma um antigo ditado, "temos que chamar a pá de pá", principalmente quando está nas mãos dos nossos coveiros. A leitura atenta da obra de Mészáros nos indica que as medidas perpetradas por tais partidos – manutenção da política econômica de seus antecessores neoliberais, reformas de cunho privatizador, distribuição de sobras ("bolsas") para os pobres etc. -serviram bem para recuperar por alguns momentos o fôlego do sistema e amaciar os conflitos sociais, mas de forma alguma se constituíram em propostas para se ir além do capital.
Estarão a favor de que projeto de sociedade, afinal? As "palestras" e "consultorias" prestadas à iniciativa privada e o rápido enriquecimento de alguns dos seus membros de cúpula são pistas significativas para que possamos formular uma resposta a esse respeito.
Saberá a militância desses partidos, que ainda se considera socialista, perceber essas contradições e canalizar as suas valiosas energias combativas para projetos genuinamente emancipatórios? Oxalá que sim, sem esperar da parte do Estado mais do que ele pode nos dar e apontando suas armas para o lugar certo, como Davi, que não mirou alguma região marginal do corpo de Golias, mas a sua fronte. E de modo urgente, para que possamos, em meio a este tempo histórico de militarismo e de produção destrutiva, cortar o pavio antes que ele atinja a dinamite.
A extrema lucidez de István Mészáros, contida nas páginas de Para além do capital: rumo a uma teoria da transição, nos ajuda a tomar consciência dessas verdades.
Ficha
Título: Para além do capital: rumo a uma teoria da transição
Autor: István Mészáros
Editora: Boitempo
Ano: 2002
Páginas: 1.104
Preço: R$ 102,00
Sobre o autor:
István Mészáros é um trabalhador braçal que se fez filósofo. Na juventude, trabalhou em fábricas de aviões, de tratores, têxteis, tipografias e até no departamento de manutenção de uma ferrovia elétrica. Aos dezoito anos, graças ao fato de haver se formado com notas máximas, ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Budapeste, onde conheceu o filósofo György Lukács, de quem foi grande amigo e discípulo. Militou em partido, exerceu um longo ativismo político desde então. Academicamente, trabalhou na Universidade de Turim, no Bedford College da Universidade de Londres, na Universidade de Saint Andrews, na Escócia, na Universidade de Sussex, em Brighton (Inglaterra), na Universidade Nacional Autônoma do México e na Universidade de York, em Toronto, no Canadá. Aposentou-se em 1995. Atualmente, vive na cidade de Rochester, próxima a Londres.domingo, 10 de abril de 2011
István Mészáros e a imperiosa necessidade do pluralismo socialista
Sou vasto... contenho multidões.
Walt Whitman
A afinidade eletiva existente entre o Partido dos Trabalhadores e o capital é visível desde já um bom tempo. Em 2004, por exemplo, num gesto de autoritarismo extremo acompanhado de um discurso cínico e oportunista, o partido expulsou quatro de seus parlamentares que não concordavam com as determinações da cúpula acerca da famigerada reforma da previdência, então em curso.[1]
Esta atitude - a imposição dos interesses de uma parte do partido sobre o todo de que é composto -, muito aquém de afirmar uma virtude política indispensável para os tempos atuais, configurou apenas a ilustração exemplar do imperativo prático que tem orientado as ações do PT ao longo dos últimos anos: a busca fetichista da unidade, realizada com vistas a neutralizar as energias críticas dos trabalhadores e a promover a ampla e irrestrita conciliação das classes estruturalmente antagônicas da presente sociedade.[2] Demonstrou, acima de tudo, como o referido partido expressa, em sua forma de ser e de se comportar, a maneira de se estruturar do próprio capital, com seus respectivos interesses e contradições.
Ora, o capital, explica-nos István Mészáros (2002), é justamente esse modo totalizante de controle sobre a atividade produtiva humana, que se configura de maneira hierárquica e autoritária e visando eliminar toda e qualquer postura que seja diferente do propósito de levar a efeito a mais elevada extração praticável do trabalho excedente, num movimento perene, sempre acumulativo e auto-expansivo. Nesse contexto, diz o filósofo, a única alternativa viável é a crítica radical, feita pelo trabalho, de tal conjunto de relações sociais, uma crítica que promova a negação das determinações materiais do sistema e a conseqüente afirmação de novas maneiras de mediar o metabolismo social humano - a negação, portanto, do modo de ser hierárquico e excludente do capital e a afirmação de uma forma de relacionamento genuinamente associativo e horizontal entre os “produtores livremente combinados”.[3] Tal alternativa se encontra delineada em torno daquilo que Mészáros denomina de pluralismo socialista, um princípio de organização que visa superar as contradições inerentes à imposição da unidade e as infelizes mistificações de que essa proposta vem acompanhada.
Nesse sentido, argumenta o autor de Para além do capital, é possível observar que já Marx e Engels em sua época estavam atentos para o fato de que a unidade não é pré-requisito para o êxito do projeto revolucionário dos trabalhadores. Duas breves passagens dos referidos autores, listadas por Mészáros, servem para demonstrar o posicionamento de ambos sobre o assunto. A primeira é de uma carta de Engels a August Bebel, datada de 1º-2 de maio de 1891, condenando a influência de Wilhelm Liebknecht sobre a redação do Programa de Gotha: “Da democracia burguesa ele [Liebknecht] trouxe e manteve uma verdadeira mania de unificação” (ENGELS, apud Mészáros, 2002, 811). A segunda é de uma carta de Marx a Wilhelm Bracke, escrita em 5 de maio de 1875, onde se lê que “é um engano acreditar que este sucesso momentâneo [isto é, a unidade em redor de um movimento político] não será comprado a um preço muito alto” (MARX, apud Mészáros, ibid., 811).
Para Marx e Engels, a suspeita em relação à exigência da unidade se devia ao fato de que tal proposta costumava levar os partidos e as organizações de esquerda a conseqüências prejudiciais, entre elas a supressão da autocrítica e a barganha sobre princípios. Isto era, evidentemente, um preço alto demais a ser pago pelas forças que lutavam pela realização de uma comunidade humana livre do jugo do capital, onde homens e mulheres pudessem desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Ciente desse dilema, Mészáros estabelece uma reflexão que pretende apontar uma saída para o labirinto no qual se perdem muitos dos movimentos socialistas da atualidade.
A unidade política, explica o filósofo, não pode ser um objetivo porque a classe trabalhadora não é, por sua própria condição, unificada. Na verdade, ela constitui um complexo de setores variados - muitas vezes antagonicamente estruturado - em contraposição à pluralidade de capitais em torno da qual se baseia o sistema vigente.[4] Por isso, o que é desejável no movimento revolucionário é a articulação pluralista – e não a unidade, que pressupõe camuflar diferenças artificialmente - dos diversos grupos que combatem pela causa dos trabalhadores. Como explica Mészáros,
“Assim como naqueles dias [isto é, nos tempos de Marx e Engels], mais uma vez este assunto é um assunto de suprema importância. Pois hoje – talvez mais que nunca, em vista das experiências amargas do passado recente, e do não tão recente – não é mais possível conceber as formas imprescindíveis de ação comum sem uma articulação consciente de um pluralismo socialista que não só reconhece as diferenças existentes, mas também a necessidade de uma adequada ‘divisão do trabalho’ na estrutura geral de uma ofensiva socialista. Em oposição à falsa identificação da ‘unidade’ como o único meio de patrocinar princípios socialistas (enquanto, na realidade, a perseguição irreal e a imposição de unidade trouxeram com elas as necessárias concessões sobre princípios), permanece válida a regra de Marx: não pode haver barganha sobre princípios.” (2002, 812)
De acordo com Mészáros, somente o pluralismo socialista pode impedir que, dentro de um movimento de luta social e política complexo e multifacetado, ocorra a imposição do interesse de uma das suas partes sobre as demais – imposição esta que, justamente, como o citado caso do PT o demonstra, origina a supressão da autocrítica e a barganha sobre princípios, que tanto beneficiam a ordem de reprodução sociometabólica vigente.[5]
A práxis pluralista, no sentido que o filósofo atribui ao termo, é aquela que reconhece e combina as diferenças e as particularidades concretas inerentes aos variados setores do proletariado[6] em função do seu objetivo maior. Ao assim proceder, cria uma forma de ação conjunta que possibilita o combate do próprio fundamento de hoje haver os particularismos antagônicos de classe, a saber: a dinâmica – sempre acumulativa e auto-expansiva - da exploração do trabalho excedente que configura o sistema do capital.
As implicações políticas de tal proposta são claras: o agente social da transformação revolucionária não pode ser definido como sendo composto unicamente por este ou por aquele ramo específico dos trabalhadores. Ao contrário: precisa ser buscado no trabalho como um todo, que, reconhecendo sua constituição múltipla e heterogênea, age no sentido de realizar o – também reconhecido - interesse que permeia a classe em sua totalidade.
Lemos, assim, em O poder da ideologia, que o sujeito social da emancipação
“só estará apto para criar as condições do sucesso se abranger a totalidade dos grupos sociológicos capazes de se aglutinar em uma força transformadora efetiva no âmbito de um quadro de orientação estratégica adequado. O denominador comum ou o núcleo estratégico de todos esses grupos não pode ser o ‘trabalho industrial’, tenha ele colarinho branco ou azul, mas o trabalho como antagonista estrutural do capital. Isto é o que combina objetivamente os interesses variados e historicamente produzidos da grande multiplicidade de grupos sociais que estão do lado emancipador da linha divisória das classes no interesse comum da alternativa hegemônica do trabalho à ordem social do capital. Pois todos esses grupos devem desempenhar seu importante papel ativo na garantia da transição para uma ordem qualitativamente diferente.” (2004, 51)
Ou seja, mesmo a classe trabalhadora sendo composta de uma miríade de setores, cada qual com interesses correspondentes às suas posições particulares, há, por trás disso, pela própria situação atual do trabalho enquanto atividade subordinada ao capital, uma condição e um interesse compartilhado por todos: isto é, respectivamente, a exploração fetichista do trabalho excedente e a necessidade de superá-la em direção a uma sociedade emancipada.
No processo revolucionário, portanto, todos os grupos terão papel fundamental, mas é preciso que estejam alertas para o fato de que, para uma emancipação realmente digna deste nome, a luta não pode se realizar com um dos segmentos afirmando o seu interesse sobre os demais. O pluralismo exige horizontalidade entre os movimentos de trabalhadores. Somente dessa maneira os socialistas poderão aspirar à radical e efetiva superação do sistema do capital.
O novo modo de operação dos revolucionários não deverá, então, espelhar a maneira de se estruturar do próprio capital – isto é, como o PT o faz: hierarquicamente e afirmando o interesse da parte sobre o todo, com vistas a eliminar as energias combativas dos trabalhadores. A emergente força social emancipadora conseguirá ter êxito em seus propósitos apenas se se articular a partir de princípios radicalmente diferentes de ação e de organização. A reconstrução das mediações sociais e políticas em torno das quais estarão reunidos os socialistas já necessitará, pois, estar baseada naquilo que Mészáros chama de igualdade substantiva,[7] em contraposição à igualdade meramente formal da atual ordem vigente.
Isto quer dizer, em outras palavras, que a estruturação interna do movimento terá que apresentar, em seu próprio processo constitutivo, “prenúncios de uma nova forma – genuinamente associativa – de cumprir as tarefas que possam se apresentar”[8] (2004, 52). E para que tudo isso possa, enfim, se realizar, é imprescindível, diz Mészáros, a formação de uma “consciência de massa socialista”, a ser desenvolvida no processo mesmo de confrontação prática com a ordem do capital.[9]
A proposta mészáriana do pluralismo socialista é, portanto, de fundamental importância para a esquerda brasileira nos dias atuais. Depois da tsunami de pelegos que assolou o país com o governo do PT, as novas forças socialistas a se constituir precisarão se reformular sem repetir as mesmas contradições. PSOL, PCB, PSTU e todos os demais grupos políticos imbuídos do objetivo da superação do capital necessitarão se articular de forma crítica e pluralista daqui por diante, ou estarão condenados ao fracasso e à impotência.
Mais do que a falsa unidade – calcada, como vimos, na imposição da parte sobre o todo e na barganha sobre princípios – é imperioso coadunar grupos diversificados, com as suas respectivas particularidades, em redor do objetivo comum: derrotar o capital e instaurar a comunidade dos homens e mulheres verdadeiramente emancipados - ou a “associação livre dos produtores”, como a chamou Marx.
Em tempos históricos de profunda crise, torna-se imprescindível que construamos essa capacidade de atuar em conjunto de forma horizontal. Se continuarmos mergulhados na inépcia no que diz respeito a travarmos esse tipo de ação coletiva, estaremos com toda certeza perdidos. Se, ao contrário, conseguirmos envidar esforços articulados, mesmo que tenhamos entre nós algumas eventuais diferenças, teremos, quem sabe, alguma chance.
Notas:
[1] Os parlamentares em questão eram a senadora Heloísa Helena e os deputados federais Luciana Genro, João Fontes e Babá. Eles alegavam que a reforma tinha viés privatizante e retirava dos trabalhadores direitos conquistados historicamente, indo assim em direção contrária ao ideário mantido pelo PT ao longo da sua trajetória passada. Para um maior entendimento sobre o caráter conservador da referida reforma, ver Oliveira (2006).
[2] Por meio, entre outras coisas, da administração de políticas assistencialistas e da cooptação de centrais sindicais, o imperativo da conciliação de classes foi tão intenso no período das duas primeiras gestões petistas que o sociólogo Francisco de Oliveira (2010) não hesitou em afirmar que “se FHC destruiu os músculos do Estado para implementar o projeto privatista, Lula destrói os músculos da sociedade, que já não se opõe às medidas de desregulamentação”. O mesmo, ao que tudo indica, está a se reproduzir no governo Dilma.
[3] Este conceito de crítica ¬– articulação material de negação e afirmação no sentido promover a “transcendência positiva da auto-alienação do trabalho” – é desenvolvido pelo filósofo húngaro em praticamente todas as suas obras. Ver, por exemplo, a esse respeito: Mészáros (2008).
[4] Conforme as palavras de Mészáros: “Na realidade, temos uma multiplicidade de divisões e contradições e o ‘capital social total’ é a categoria abrangente que incorpora a pluralidade de capitais, com todas as suas contradições. Ora, se olharmos para o outro lado, também a ‘totalidade do trabalho’ jamais poderá ser considerada uma entidade homogênea enquanto o sistema do capital sobreviver. Há, necessariamente, inúmeras contradições encontradas sob as condições históricas dadas entre as parcelas do trabalho, que se opõem e lutam umas contra as outras, que concorrem umas com as outras, e não simplesmente parcelas particulares do capital em confronto. Essa é uma das tragédias da nossa atual situação de apuro. [...] Essas divisões e contradições restam conosco e, em última instância, devem-se explicar pela natureza e funcionamento do próprio sistema do capital.” (2007, 66)
[5] A expressão, na forma de atuação prática do Partido dos Trabalhadores, das exigências materiais do capital deve ser entendida, evidentemente, a partir dos múltiplos complexos de mediação que permeiam a relação entre essas duas estruturas, especialmente a crise estrutural do capital e a crise estrutural da política, que acometem o sistema sociometabólico vigente. Em razão das limitações do presente artigo, não poderemos nos aprofundar acerca desses temas. Para uma maior compreensão das crises estruturais do capital e da política, ver Mészáros (2002). Para uma boa visão das transformações do PT ao longo dos últimos anos, ver Oliveira (2006, 2010 e 2010b).
[6] Segundo Mészáros (2007), proletário não pode ser definido meramente como o operário de fábrica ou o trabalhador manual. Proletariado, enquanto categoria social, diz respeito a todos os grupos sociais que, sofrendo a ação usurpadora do capital em relação aos meios de produção, se encontram alijados da possibilidade de controle consciente sobre o sociometabolismo humano. Proletarizar-se, nesse sentido, é perder esse controle.
[7] A igualdade substantiva é definida por Mészáros qualitativamente, com base nas teses de Babeuf que foram endossadas por Marx: “A igualdade deve ser medida pala capacidade do trabalhador e pela carência do consumidor, não pela intensidade do trabalho nem pela quantidade de coisas consumidas [grifo nosso]. Um homem dotado de certo grau de força, quando levanta um peso de dez libras, trabalha tanto quanto outro homem com cinco vezes a sua força que levanta cinqüenta libras. Aquele que, para saciar uma sede abrasadora, bebe um caneco de água, não desfruta mais do que seu camarada que, menos sedento, bebe apenas um copo. O objetivo do comunismo em questão é igualdade de trabalhos e prazeres, não de coisas consumíveis e tarefas dos trabalhadores” (BABEUF, apud Mészáros, ibid., 42). Tais são os princípios de organização da produção e da distribuição a ser implementados na fase superior da sociedade socialista: não a igualdade de coisas consumidas, nem de tarefas ou horas de trabalho realizadas, mas a igualdade medida pelas capacidades e carências não alienadas dos indivíduos sociais.
[8] Nessa forma de organização política - horizontal e radicalmente pluralista -, é fundamental, afirma Mészáros, que os trabalhadores saibam articular as suas demandas parciais com as exigências gerais de superação do sistema. Vale a pena, mais uma vez, ler o que escreve o autor de Para além do capital acerca de sua proposta: “as demandas mais urgentes de nossa época, que correspondem diretamente às necessidades vitais de uma grande variedade de grupos sociais – empregos, educação, assistência médica, serviços sociais decentes, assim como as demandas inerentes à luta pela libertação das mulheres e contra a discriminação racial -, podem, sem uma única exceção, ser abraçadas sem restrições por qualquer liberal genuíno. Entretanto, é absolutamente diferente quando não são consideradas como questões singulares, isoladamente, mas em conjunto, como partes do complexo global que constantemente as reproduz como demandas não realizadas e sistematicamente irrealizáveis. Desse modo, o que decide a questão é a sua condição de realização (quando definidas em sua pluralidade como demandas socialistas conjuntas), e não o seu caráter considerado separadamente. Por conseguinte, o que está em jogo não é a enganosa ‘politização’ destas questões isoladas, pela qual poderiam cumprir uma função política direta numa estratégia socialista, mas a efetividade de afirmar e sustentar tais demandas ‘não-socialistas’, tão largamente automotivadoras no front mais amplo possível [grifo nosso]” (2002, 818). Ou seja, as “demandas urgentes de nossa época” – empregos, educação, saúde, etc. – são todas importantes e não devem deixar de ser reivindicadas. Mas o essencial, diz Mészáros, não é a “politização destas questões isoladas” e sim a integração de tais demandas dentro de um quadro reivindicatório mais amplo, que combata o fundamento real de a sociedade se ver hoje majoritariamente privada dessas condições básicas: o sistema de controle sociometabólico do capital.
[9] Daí a importância atribuída pelo filósofo húngaro (2008b) à educação revolucionária, que necessita se realizar em meios formais e não formais, a fim de proporcionar o desenvolvimento contínuo da consciência e dos valores socialistas exigidos para a efetivação da nova forma histórica.
Referências:
MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2002.
MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004.
MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007.
MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social. São Paulo: Boitempo, 2008.
MÉSZÁROS, István, A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008b.
OLIVEIRA, Francisco de. O momento Lenin, 2006. Disponível em
OLIVEIRA, Francisco de. O avesso do avesso. in OLIVEIRA, Francisco de, BRAGA, Ruy e RIZEK, Cibele (orgs.). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010.
OLIVEIRA, Francisco de. Consenso conservador cria falsa divergência entre Serra e Dilma (entrevista a Valéria Nader e Gabriel Brito). 2010b. Disponível em http://www.correiocidadania.com.br/content/view/5102/9/>. Acesso em 03/01/11.
quinta-feira, 10 de março de 2011
Mészáros: a emancipação feminina e as lutas de classes
Rita Lee e Zélia Duncan
Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher ganha força a exigência de se refletir acerca de um tema que interessa a todos nós da classe trabalhadora: através de que parâmetros se pode orientar uma luta coerente e radical pela realização de uma comunidade humana na qual estejam definitivamente abolidas as práticas sociais - que de múltiplas maneiras se expressam - de subordinação hierárquica e discriminatória das mulheres em relação aos homens? Em outras palavras: que tipo de igualdade se deve buscar? A condição para a resolução dessas questões é a máxima clareza possível a respeito do conjunto de relações que organizam o sociometabolismo humano no contexto onde atualmente se dão as batalhas pela emancipação feminina.
É necessário, então, que nos perguntemos: o que é que define, em todos os períodos de sua supremacia histórica, o ser da relação-capital? Em Para além do capital: rumo a uma teoria da transição, o filósofo húngaro István Mészáros apresenta-nos uma resposta clara, sintética e precisa:
“As características essenciais que definem todas as possíveis formas do sistema do capital são: a mais elevada extração praticável do trabalho excedente por um poder de controle separado, em um processo de trabalho conduzido com base na subordinação estrutural hierárquica do trabalho aos imperativos materiais da produção orientada para a acumulação - 'valor sustentando-se a si mesmo' (Marx) – e para a contínua reprodução ampliada da riqueza acumulada. As formas particulares de personificação do capital podem variar consideravelmente, contanto que as formas assumidas se moldem às exigências que emanam das características definidoras essenciais do sistema.” (2002, 781)
Eis aí, portanto, a essência da estrutura de relacionamento social hoje hegemônica sobre a superfície do globo e que nos domina a todos: uma forma fetichista e hierárquica de controle sobre a atividade produtiva humana, que se estabelece a fim de lhe extrair, num movimento sempre acumulativo e expansivo, a maior quantidade possível de trabalho excedente.[1] Paradoxalmente, tal sistema é o fruto da própria ação coletiva dos seres humanos, que, em certa época histórica, se autonomizou, voltou-se contra eles e passou a subjugá-los, compondo uma realidade profundamente antagônica na qual a criatura é a senhora dos seus criadores. Por tais razões, Marx definiu o capital como sendo a contradição em processo.
Mészáros se esforça, em seu magistral estudo, em desvelar o modo como esse sistema se organizou a partir de uma articulação dinâmica entre suas inúmeras partes constituintes – o capital é, no dizer do filósofo, um sistema de mediações -, cada uma delas inerentemente contraditória, que vai desde a família nuclear, os meios alienados de produção e o dinheiro, passando pelos objetivos fetichistas de produção e o trabalho “estruturalmente separado da possibilidade de controle”, até as várias formas de Estado do capital e o “incontrolável mercado mundial”, em cuja estrutura os participantes da atual ordem sociometabólica devem se integrar e se adaptar.[2]
O capital, diz o filósofo húngaro, não inventou todas as mediações materiais contraditórias que lhe conformam o ser. Algumas delas existem há milênios, como, por exemplo, a divisão hierárquico-estrutural do trabalho, que antecede historicamente em muito as formas embrionárias do capital. Entretanto, no momento em que este sistema se tornou hegemônico sobre a atividade produtiva humana, assimilou tal divisão, que veio a se constituir mesmo em um dos seus componentes fundamentais.
Nesse processo, esta mediação particular – a divisão hierárquica do trabalho - adquiriu novas determinações e, coadunada com todas as demais mediações do sistema, passou a compor a especificidade do complexo do capital como processo acumulativo e expansivo de exploração de trabalho excedente. “O mesmo acontece, diz Mészáros, com todas as formas de dominação historicamente precedentes: elas se subordinam ou são incorporadas às mediações de segunda ordem específicas do sistema do capital, da família às estruturas de controle do processo de trabalho, e das variadas instituições de troca discriminadora até o quadro político de dominação de tipos muito diferentes de sociedades.” (2002, 206-7)
O mesmo acontece, pois, com a subordinação hierárquica e discriminatória das mulheres em relação aos homens. O capital, historicamente, não foi o responsável por produzir esse tipo peculiar de relacionamento contraditório. Contudo, uma vez que o sistema se tornou dominante sobre o metabolismo social humano, passou a englobar tal conflito e a se servir dele para realizar seus propósitos de exploração material. Daí a impossibilidade de, no interior do sistema do capital, as mulheres conseguirem mais do que uma igualdade meramente formal em relação aos homens e de atingirem, enfim, uma emancipação verdadeiramente digna deste nome.
Mészáros afirma que, dentro dos limites da ordem atual, é até possível encontrar algumas “ilhas” de relacionamentos igualitários, verdadeiramente horizontais, entre homens e mulheres, no meio do “oceano” de submissão e discriminação do sistema, mas tais casos não passam aí de eventos isolados. Nas palavras do filósofo:
“Pares isolados podem ser capazes de ordenar (o que certamente fazem) seus relacionamentos pessoais em verdadeira igualdade. Na sociedade contemporânea existem até mesmo enclaves utópicos de grupos de pessoas que interagem comunitariamente e podem se afirmar engajados em relações interpessoais não-hierárquicas humanamente satisfatórias e em formas de criar os filhos muito diferentes da família nuclear e suas fragmentações. Não obstante, nenhum desses dois tipos de relação pessoal pode se tornar historicamente dominante no quadro do controle sociometabólico capitalista. Sob as circunstâncias prevalecentes, o übergreifendes Moment [isto é, o momento predominante – neste contexto, o macrocosmo do capital] determina que os microcosmos da reprodução devem ser capazes de se aglomerar num conjunto abrangente que não pode, de forma alguma, funcionar numa base de verdadeira igualdade. O menor de todos os 'microcosmos' da reprodução deve sempre proporcionar sua participação no exercício global das funções sócio-metabólicas, que não incluem apenas a reprodução biológica da espécie e a transmissão ordenada da propriedade de uma geração à outra. Nesse aspecto, não é menos importante seu papel essencial na reprodução do sistema de valores da ordem estabelecida da reprodução social, totalmente oposto – como não poderia deixar de ser – ao princípio da verdadeira igualdade.” (ibid., 269-70)
Ou seja, os “microcosmos da reprodução” - isto é, as famílias nucleares – estabelecem uma relação dialética com o “macrocosmo” do capital. Mas, em virtude desta instância ser o “momento predominante” da relação, as transformações históricas que porventura ocorram na estrutura das famílias devem se ajustar aos parâmetros mais amplos do complexo social do qual fazem parte - justamente, o sistema hierárquico de exploração de trabalho excedente. Ainda que essa determinação não seja absoluta – o que se comprova pelo fato de haver casos alternativos isolados de real horizontalidade –, o sistema vai sempre forçar suas microestruturas a reproduzir, a partir do seu interior, o sistema de valores necessário para a perpetuação da ordem maior. A subordinação das mulheres, portanto, apesar de não ter sido criada pelo capital, é reforçada por ele diuturnamente com o auxílio dos “microcosmos” que o sistema exige para prolongar no tempo e no espaço a sua vigência.
Mészáros explica que o capital perpetuou a subordinação das mulheres e se serviu dela historicamente de várias maneiras. Na família, como foi dito, reproduzindo os valores discriminatórios, antagônicos à horizontalidade das relações sociais e necessários para a manutenção da macroestrutura hierárquica de exploração da atividade produtiva. No “mundo do trabalho”, por sua vez, atribuindo às mulheres, na mais larga escala, uma remuneração inferior à dos homens. Nesse contexto, diz o filósofo, apesar de se verificar a existência de algumas conquistas históricas – possibilitadas, entre outras coisas, pela expansão do capital em sua fase ascendente –, elas tendem a ser negadas na prática nos momentos em que o sistema porventura enfrentar dificuldades maiores para a realização da acumulação de capital – como na atual época de crise estrutural, por exemplo.
Mészáros assinala ainda que nem no campo da política a igualdade, a participação eqüitativa das mulheres em comparação com os homens, se materializou de forma efetiva. Isso se deve precipuamente ao fato de que, no sistema do capital, o Estado não tem, entre suas atribuições, a tarefa de promover a igualdade real entre os participantes de tal ordem sociometabólica. Por ser uma mediação constituinte indispensável da base material do referido complexo – fato que implica em férreas determinações -, sua função principal acaba sendo a de viabilizar – ora por meios diretos, ora por meios indiretos - a reprodução dessa mesma estrutura de controle hierárquica e discriminatória da qual ele é um dos elementos essenciais. O capital, diz o filósofo húngaro, nos momentos favoráveis para sua expansão, é até capaz de acolher, através do Estado, algumas das demandas sociais particulares de cada conjuntura histórica, desde que estas não modifiquem a estrutura mais íntima do “macrocosmo” do capital – ele não pode, portanto, proporcionar nada mais do que igualdade formal entre as pessoas.[3]
Ora, uma vez que as diversas contradições no plano do relacionamento social humano, criadas historicamente, se integram e se articulam organicamente dentro do grande sistema contraditório de produção e reprodução do capital, o objeto a ser negado – as “cadeias radicais” -, para todos aqueles que aí se encontram nas mais variadas posições de subordinação estrutural hierárquica, torna-se rigorosamente o mesmo: o próprio macro-sistema de exploração de trabalho excedente, com todas as suas correspondentes micro-estruturas de reprodução de valores e práticas sociais discriminatórias. Em outras palavras: além das demandas particulares inerentes à posição de cada grupo, há também uma contradição fundamental, que a todos afeta, e que deve, por isso, se converter em foco canalizador de suas plurais energias combativas.
Concomitantemente, a nova realidade a ser afirmada torna-se um objetivo comum para as múltiplas forças emancipadoras em questão: a realização de uma comunidade humana na qual estejam definitivamente superados os modos de relacionamento social organizados a partir de antagonismos estruturais hierárquicos e discriminatórios - ou seja, a configuração da sociedade dos produtores associados de forma livre, autônoma, cooperativa, sustentável, horizontal e consciente.
Aqui, no entanto, é cabível a seguinte pergunta: diante das tantas derrotas históricas dos movimentos que visavam à superação da ordem do capital, o que nos leva a pensar que a sua derrocada seja possível em nossos dias? Responde Mészáros: justamente, a nova época de crise estrutural do sistema do capital, na qual nos situamos, onde esta macro-estrutura se desenvolveu a tal ponto que acabou por produzir contradições potencialmente explosivas, para si e para todos os que se encontram no seu interior, e que comprometem por isso a sua viabilidade como controladora do sociometabolismo humano.
O filósofo explica que, durante a sua fase histórica de ascendência, o capital usou as mediações contraditórias como “motor” do seu processo de acumulação e expansão continuada. Com o término de tal fase de ascendência, contudo, alguns desses antagonismos começaram a se manifestar como poderosos entraves para o desenvolvimento do complexo global como um todo. Exatamente neste momento – em torno do fim da década de 1960 -, teve início a chamada crise estrutural do sistema do capital, uma situação em que a única maneira encontrada pela ordem vigente para lidar com as suas contradições mais problemáticas – os seus “limites absolutos” - foi fomentar uma forma de produção que tem na destrutividade (produção destrutiva) a sua dinâmica propulsora.
A produção destrutiva do capital se expressa de múltiplas formas: na precarização do trabalho, na degradação ambiental, na obsolescência planejada, no “complexo militar-industrial” - setor fundamental da economia mundial atual, onde as mercadorias (artefatos bélicos, etc.) se destroem imediatamente no ato mesmo do seu consumo -, entre outras. É esta condição, na qual o capital, para sanar algumas das suas contradições, começa a fazer uso de remédios amargos até para si mesmo – e é isto o que configura, segundo Mészáros, uma era de transição -, que abre, justamente, a possibilidade objetiva para a sua transcendência positiva.[4]
O capital pode, portanto, ser vencido. Para tanto, precisa ser energicamente negado em conjunto, em todos os âmbitos onde faz prevalecer o seu domínio, por todos os grupos sociais que, no interior desse complexo, se encontram numa posição de antagonismo estrutural em relação às personificações do capital. Mas não somente a negação é essencial para uma práxis revolucionária radical e conseqüente. Também a afirmação, nesse processo, adquire profunda importância. É aqui que ganha destaque a proposta mészáriana da igualdade substantiva para a superação da ordem social que, em nossos dias, se sustenta sobre uma miríade de estruturas hierárquicas e discriminatórias.
A igualdade substantiva, assinala o filósofo húngaro, é diferente da igualdade formal assegurada pelo capital. Também não equivale ao “nivelamento por baixo”, que muitos acusam o socialismo de querer preconizar. Ela deve ser definida qualitativamente, e não de forma meramente quantitativa. Para melhor explicitar os fundamentos de sua tese, Mészáros recorre a Marx e a algumas das influências políticas do célebre pensador alemão, especialmente François Babeuf e Felippe Buanorroti.
Lemos, então, em O poder da ideologia, que
“A igualdade deve ser medida pala capacidade do trabalhador e pela carência do consumidor, não pela intensidade do trabalho nem pela quantidade de coisas consumidas [grifo nosso]. Um homem dotado de certo grau de força, quando levanta um peso de dez libras, trabalha tanto quanto outro homem com cinco vezes a sua força que levanta cinqüenta libras. Aquele que, para saciar uma sede abrasadora, bebe um caneco de água, não desfruta mais do que seu camarada que, menos sedento, bebe apenas um copo. O objetivo do comunismo em questão é igualdade de trabalhos e prazeres, não de coisas consumíveis e tarefas dos trabalhadores.” (BABEUF, apud Mészáros, 2004b, 42)
Tais são os princípios – endossados, segundo Mészáros, por Marx - que definem a igualdade substantiva e que precisam ser afirmados contra a forma de sociabilidade estabelecida atualmente pelo capital. É este, pois, o tipo de igualdade que necessitamos buscar. Não a mera equivalência de coisas consumidas, nem de tarefas ou horas de trabalho realizadas, mas a igualdade avaliada pelas capacidades e carências não alienadas dos indivíduos sociais. É nisto que se deve basear o projeto alternativo socialista para, na luta de classes, superar o modo de controle sociometabólico do capital e instaurar uma nova maneira, qualitativamente diferente, de intercâmbio e de relação entre os homens e as mulheres e entre a humanidade e a natureza.[5] Leiamos, mais uma vez, o que afirma o filósofo húngaro nesse sentido:
“A natureza da nova forma [isto é, da comunidade humana emancipada] pode ser resumida, citando as palavras de Marx, como um sistema baseado em 'um plano geral de indivíduos livremente combinados'. Isso quer dizer, em termos mais simples, a substituição das cadeias de trabalho impostas pelo capital pelos elos cooperativos dos indivíduos e os vários grupos a que eles pertencem. Por meio dessa mudança qualitativa, eles terão condições de estabelecer uma forma superior e potencialmente muito mais produtiva de coordenação geral do que a que é viável com base no controle externo autoritário da mão-de-obra no sistema de trabalhos forçados do capital.” (ibid., 43-4)
Somente o controle social instituído e realizado dessa maneira pode garantir a sustentabilidade das relações metabólicas estabelecidas entre homens, mulheres e a natureza. A sustentabilidade é entendida por Mészáros, nesse contexto, justamente, como o “controle consciente do processo de reprodução sociometabólica pelos produtores livremente associados.” (ibid., 44) Ficam definidos, desse modo, os princípios orientadores da práxis capaz de proporcionar tanto a emancipação dos proletários,[6] quanto a emancipação das mulheres – estas lutas, em verdade, não podem mais ser vistas como isoladas uma da outra.
Para fazermos uso novamente das palavras do filósofo húngaro:
“sem mudanças fundamentais no modo de reprodução social, não se poderão dar sequer os primeiros passos em direção à verdadeira emancipação das mulheres, muito além da retórica da ideologia dominante e de gestos de legislação que permanecem sem a sustentação de processos e remédios materiais adequados. Sem o estabelecimento e a consolidação de um modo de reprodução sociometabólica baseado na verdadeira igualdade, até os esforços legais mais sinceros voltados para a 'emancipação das mulheres' ficam desprovidos das mais elementares garantias materiais; portanto, na melhor das hipóteses, não passam de simples declaração de fé. Jamais se enfatizará o bastante que somente uma forma comunitária de produção e troca social pode arrancar as mulheres de sua posição subordinada e proporcionar a base material da verdadeira igualdade.” (2002, 303)
Fica descartada, assim, a retórica mistificadora própria à ideologia dos defensores da ordem estabelecida, que defende que a mera “igualdade de oportunidades” dá conta de suprir as exigências concernentes aos problemas da emancipação humana.
*
O poeta brasileiro Ferreira Gullar, nos tempos em que ainda usava da pena como arma crítica em favor dos oprimidos do mundo, escreveu, sobre os povos da América Latina, algumas de suas palavras mais lúcidas: “Somos todos irmãos/ Não porque dividamos/ O mesmo teto e a mesma mesa:/ Divisamos a mesma espada/ Sobre nossa cabeça.” Sutilmente transformado, este poema nos serve para expressarmos sinteticamente o anseio inerente ao presente artigo. E, nesse sentido, se levarmos em conta o fato de que a mesma espada não está assentada apenas sobre a cabeça dos latino-americanos e sim sobre todos aqueles que, pelos mais distantes rincões do planeta, se encontram enredados nas múltiplas estruturas hierárquicas que realizam os imperativos do sistema do capital, teremos uma boa imagem do tamanho do nosso fardo e também da magnitude do nosso desafio.
Se se aperceberem disto, os proletários e feministas conseqüentes de nossa época histórica poderão bem andar de mãos dadas em suas lutas políticas daqui por diante.
Notas:
[1] Com base numa leitura particular dos escritos de Marx e sob a influência dos economistas marxistas norte-americanos Paul Baran e Paul Sweezy – mas com algumas sutis modificações -, Mészáros irá estabelecer a exploração de trabalho excedente – e não meramente a da mais-valia – como elemento definidor do ser do capital. Para maiores esclarecimentos a esse respeito, ver, além do já referido Para além do capital, Baran (1984) e Baran e Sweezy (1966).
[2] Estas são as assim chamadas mediações de segunda ordem do sistema do capital. São, enquanto criações históricas, qualitativamente diferentes das mediações de primeira ordem da atividade produtiva. Tanto em Para além do capital quanto em Estrutura social e formas de consciência (2009), Mészáros apresenta-nos uma lista detalhada dos componentes de ambos os conjuntos.
[3] Por esses mesmos motivos, esclarece Mészáros, nem nos países pós-capitalistas do século XX se logrou superar a verticalidade das relações entre homens e mulheres. A citação da escritora feminista norte-americana Margaret Randall, que a seguir transcrevemos, é bastante ilustrativa de sua concepção a respeito do tema: “Na verdade, nem as sociedades capitalistas que tão falsamente prometem a igualdade nem as sociedades socialistas que prometeram a igualdade e até mais, adotaram a bandeira do feminismo. Sabemos como o capitalismo coopta qualquer conceito libertador, transformando-o em slogan utilizado para nos vender o que não carecemos, onde as ilusões de liberdade substituem a liberdade. Agora me pergunto se a incapacidade do socialismo de abrir espaço para a agenda feminista – para realmente adotar esta agenda à medida que emerge naturalmente em cada história e cada cultura – seria uma das razões pelas quais o socialismo não poderia sobreviver como sistema” (RANDALL, apud Mészáros, ibid., 290). Nesse contexto, deve ser dito também que, para o filósofo húngaro, o fato de as garantias dadas pelo Estado não serem suficientes para assegurar a verdadeira emancipação, não significa que as lutas no interior dessa instância específica não sejam importantes. Elas o são, sim, e devem ser realizadas enérgica e criticamente. O fundamental, contudo, é que esses combates estejam articulados com a formação das mediações extraparlamentares capazes de se assenhorear do controle sobre o metabolismo social humano de maneira consciente e sustentável. É isto que, justamente, configura a proposta da ofensiva socialista estabelecida por István Mészáros ao longo de sua fecunda teorização política. Infelizmente, em virtude das limitações deste texto, não há espaço para uma maior explanação acerca de tais temas. Para maiores informações sobre as complexas formulações do filósofo húngaro a respeito da relação entre o capital e o Estado, da função e da vigência continuada desse sistema nas sociedades do chamado “socialismo realmente existente” (com destaque para as explicações sobre as diferenças entre a extração econômica e a extração política do trabalho excedente) e da impossibilidade de se realizar a emancipação das mulheres no interior desse complexo sociometabólico, remetemos os leitores interessados especialmente aos capítulos 2, 5, 17, 18 e 22 de Para além do capital. De nossa parte, recentemente procuramos dar uma singela contribuição para o entendimento da concepção de Estado em Mészáros através de um breve artigo (2011), que listamos nas referências.
[4] É necessário explicar, nesse contexto, que, de acordo com a teoria de Mészáros, o próprio antagonismo existente na relação entre homens e mulheres configura hoje um dos limites absolutos do capital – os outros três são a contradição entre o capital transnacional e os Estados nacionais, a “eliminação das condições de reprodução sociometabólica”, isto é, a contradição entre a necessidade de expansão infinita do capital e a finitude dos recursos naturais e humanos disponíveis, e o desemprego crônico. Os limites absolutos - que ao serem ativados dão início à crise estrutural do capital – são aqueles que só podem ser eliminados pela transformação estrutural do próprio complexo em que se inserem, com a sua conseqüente substituição por outro modo de organização social qualitativamente diferente e viável. São distintos, portanto, dos limites relativos do sistema, isto é, as contradições com as quais se pode lidar dentro da ordem mesma, sem que seja preciso alterar substancialmente seus fundamentos. Aqui, um ponto importante deve ser frisado: a ativação dos limites absolutos do capital e a conseqüente crise estrutural que daí emerge não significam que o sistema esteja em vias de se acabar ou que vá implodir por conta própria. O sistema do capital, nesta conjuntura, continua vivo, mas vivo como um câncer – daí o termo crescimento canceroso utilizado por Mészáros (2004) -, configurando, portanto, uma dinâmica altamente destrutiva e agressiva. É isto que funda, justamente, a atualidade histórica da ofensiva socialista de que fala o filósofo húngaro. Nesse contexto, vale a pena mencionar ainda, a respeito da crise estrutural do capital, que Mészáros tece interessantes considerações sobre as manifestações dessa situação em termos de teoria do valor (e também do antivalor). É impossível, contudo, dentro dos limites deste artigo, aprofundarmo-nos sobre tais questões. Para maiores informações, remetemos novamente os interessados à leitura de Para além do capital: rumo a uma teoria da transição, especialmente os capítulos 5 e 16. Para uma boa visão das implicações políticas das constatações do filósofo húngaro, é útil ler também Mészáros (2010). Em uma recente pesquisa teórica (2010), realizada junto à Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvemos uma análise detida sobre todos esses temas.
[5] A igualdade substantiva é, enquanto um dos princípios orientadores da estratégia revolucionária socialista, o primum inter pares em relação aos demais - isto é, o “primeiro entre iguais”, conforme Mészáros (2008). Em seu magnífico ensaio Socialismo no século XXI - que está contido no livro O desafio e o fardo do tempo histórico (cit.) -, o filósofo húngaro articula, arquimedianamente, tal princípio com outros sete, a saber: o imperativo de se trazer à luz uma ordem alternativa historicamente sustentável, a fim de se superar o enorme desperdício de recursos naturais e humanos levados a cabo pela lógica capitalista do lucro; a promoção da real participação dos “produtores associados”, por meio da transferência progressiva a estes do poder de decisão sobre a atividade produtiva; o planejamento, que deve fazer vir à tona um modo de organização social que não agrida as condições materiais de existência e que torne possível a reprodução do gênero humano sobre o planeta numa perspectiva de longo prazo; o crescimento qualitativo em utilização dos produtos do trabalho, para que se possa combater a destrutividade que satisfaz as demandas do capital auto-expansivo; a complementaridade entre os âmbitos nacional e internacional nas lutas pela emancipação humana; a unificação das esferas da reprodução material e da política, que foram separadas pelo capital durante seu movimento histórico auto-constitutivo; e, finalmente, a educação, realizada em meios formais e não formais, como alavanca para se produzir o desenvolvimento contínuo da consciência e dos valores socialistas necessários para a realização da nova forma histórica, uma educação que se converta, em última instância, em auto-educação permanente para uma sociedade que supere definitivamente as determinações fetichistas do sistema produtor de mercadorias.
[6] Damos, aqui, ao conceito de proletários, o significado preciso que Mészáros atribui a ele. Partindo da compreensão de que o sistema do capital é uma estrutura de controle hierarquicamente estabelecida sobre o metabolismo social, o filósofo húngaro estabelece que proletário não é somente o empregado da fábrica, mas todo aquele sujeito - empregado ou não, na fábrica ou fora dela - alijado do controle consciente dos processos sociometabólicos da humanidade. Nas palavras do autor de O desafio e o fardo do tempo histórico: “As classes operárias industriais constituem-se, em sua totalidade, de trabalhadores manuais, desde a mineração até os diversos ramos da produção industrial. Restringir o agente social da mudança aos trabalhadores manuais não é obviamente a posição do próprio Marx. Ele estava muito longe de pensar que o conceito de ‘trabalhador manual’ proporcionaria uma estrutura adequada de explicação sobre aquilo que uma mudança social radical demanda. Devemos recordar que ele está falando de como, pela polarização da sociedade, um número cada vez maior de pessoas é proletarizado. Assim, é o processo de proletarização – inseparável do desdobramento global do capital – que define e em última instância estabelece o problema. Ou seja, a questão é como a maioria esmagadora de indivíduos cai em uma condição na qual perde todas as possibilidades de controle sobre a sua vida e, nesse sentido, torna-se proletarizada [grifo nosso].” (2007, 70)
Referências:
BARAN, Paul. A economia política do desenvolvimento (Coleção Os economistas). São Paulo: Abril Cultural, 1984.
BARAN, Paul e SWEEZY, Paul. Capitalismo monopolista. Ensaio sobre a ordem econômica e social americana. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966.
CHEROBINI, Demetrio. Educação e política no pensamento de István Mészáros: estudo introdutório. Florianópolis, SC: 2010. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação.
CHEROBINI, Demetrio. O mito do Estado como “indutor do desenvolvimento”, 2011. Disponível em
MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2002.
MÉSZÁROS, István. A globalização capitalista é nefasta. (Entrevista a Brasil de Fato), 2004. Disponível em
MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004b.
MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007.
MÉSZÁROS, István. Princípios orientadores da estratégia socialista. in Margem Esquerda – ensaios marxistas nº 11. São Paulo, Boitempo, 2008, p. 57-69.
MÉSZÁROS, István. Estrutura social e formas de consciência: a determinação social do método. São Paulo: Boitempo, 2009.
MÉSZÁROS, István. Atualidade histórica da ofensiva socialista. São Paulo: Boitempo, 2010.
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
21 de fevereiro, noite... um poema.
Que lástima
que eu não possa cantar aos costumes
deste tempo o mesmo que os poetas de hoje cantam!
Que lástima
que eu não possa entoar com uma voz orgulhosa
essas brilhantes canções
às glórias da pátria!
Que lástima
Que eu não tenha uma pátria! (…)
Que lástima
que eu não tenha uma casa!
Uma casa gigantesca e invejada,
uma casa
onde guardar,
além de outras coisas raras,
um sofá velho de couro, uma mesa corroída, (…)
e um retrato de um avô meu que vencera
uma batalha.
Que lástima
que eu não tenha um avô que vencera
uma batalha,
retratado com uma mão cruzada
por sobre o peito, e a outra no punho da espada!
E que lástima
que eu não tenha sequer uma espada!
Porque..., Que vou a cantar se não tenho nem uma pátria,
nem uma terra provinciana,
nem uma casa
gigantesca e invejada,
nem o retrato de um avô meu que ganhara
uma batalha,
nem uma sofá velho de couro, nem uma mesa, nem uma espada?
Que vou a cantar se sou um pária
que tem apenas uma capa?
Entretanto... (…)
há uma casa
na qual estou de passagem
na qual tenho, emprestadas,
uma mesa de pino e uma cadeira de palha.
Tenho também um livro. E toda minha bagagem se encontra
numa sala
muito grande
e muito branca
que está na parte mais baixa
e mais fresca da casa.
Há uma luz muito clara
que entra por uma janela
e que dá para uma rua muito larga.
E à luz dessa janela
venho todas as manhãs.
Aqui me sento sobre minha cadeira de palha
e venço as longas horas
lendo o meu livro e vendo como passam
as pessoas através da janela.
Coisas de pouca importância
parecem um livro e o cristal de uma janela (…)
e, no entanto, isso basta
para que eu sinta todo o ritmo da vida em minha alma.
Pois todo o ritmo do mundo passa por estes cristais
quando passam
esse pastor que caminha atrás das cabras
com seu enorme cajado,
essa mulher agoniada
com uma carga enorme
de lenha nas costas,
esses mendigos que vão arrastando suas misérias, (…)
e essa menininha que vai para a escola tão sem vontade.
Oh, essa menina! Sempre pára um segundo em minha janela
e fica grudada ao cristal como se fosse uma estampa.
Quanta graça
há em seu rostinho,
rente ao cristal,
com o queixinho sumido e o narizinho achatado!
Dou muita risada ao contemplá-la
e digo a ela que é uma linda menina...
Ela então me chama:
Bobo! E se vai.
Pobre menina! Já não passa
por essa rua tão larga,
caminhando tão sem vontade para a escola,
nem pára mais
em minha janela,
nem fica grudada ao cristal
como se fosse uma estampa.
Pois um dia ficou doente,
muito doente,
e um dia desses dobraram por ela os sinos, por ter morrido.
E numa tarde muito clara,
por esta rua tão larga,
através da janela,
vi como levavam
em um caixão
muito branco...
Em um caixão
muito branco,
que tinha um cristalzinho na tampa.
Por aquele cristal se via o rosto
o mesmo que por vezes ficava
grudadinho ao cristal de minha janela...
Ao cristal desta janela
que agora me lembra sempre o cristalzinho daquele caixão
tão branco.
Todo o ritmo da vida passa
pelo cristal de minha janela...
E a morte também passa!
Que lástima
que não podendo cantar outras façanhas,
porque não tenho uma pátria,
nem uma terra provinciana,
nem uma casa
gigantesca e invejada,
nem o retrato de um avô meu que vencera
uma batalha,
nem um sofá velho de couro, nem uma mesa, nem uma espada,
pois sou um pária
que tem apenas uma capa...
me veja forçado a cantar coisas de pouca importância!
Leon Felipe
Tradução: Demetrio Cherobini